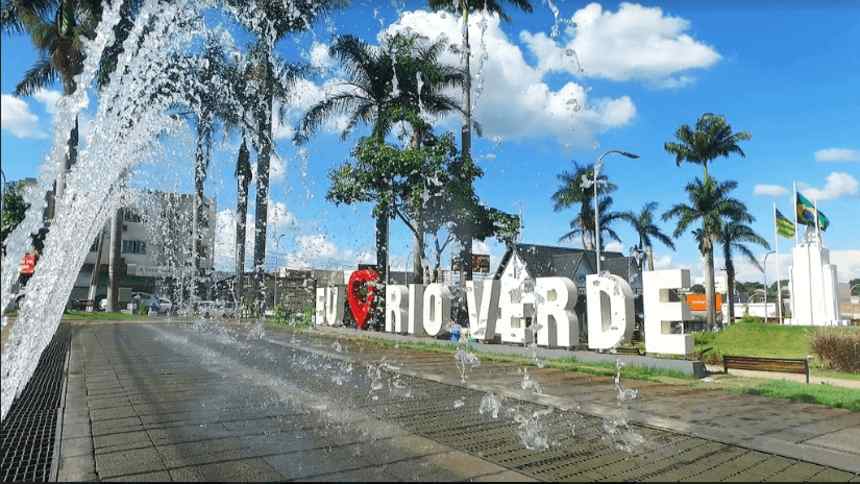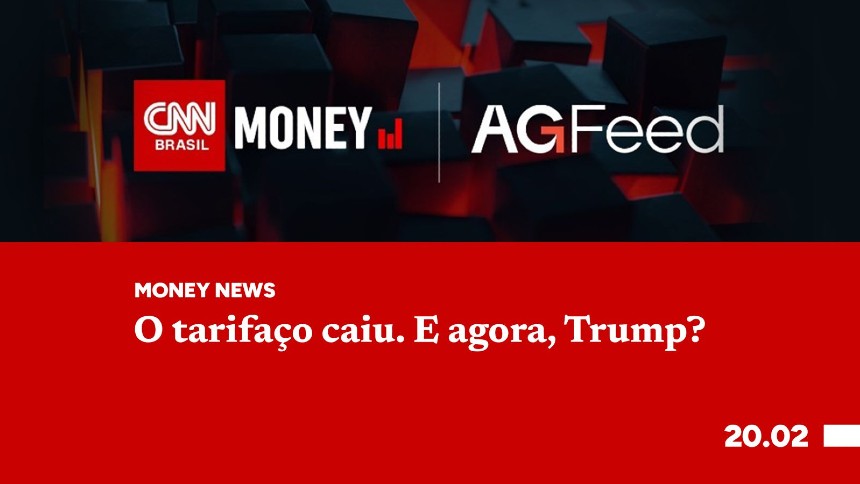Não é raro ouvirmos em palestras e falas de juristas brasileiros que o Brasil tem uma das legislações ambientais mais protetivas do mundo. O código florestal brasileiro, lei sem paralelo em outros países, determina que alguns bens ambientais como nascentes, rios, topos de morro e mangues devem ter a vegetação do entorno protegida.
O objetivo é que funcionem como um “buffer” para impedir que esses bens sejam degradados por erosões e assoreamento, por exemplo, e que tenham prejudicadas suas funções no ecossistema –como servir de habitat ou berçário para espécies.
A mesma lei determina que toda propriedade rural deve ter um percentual de vegetação preservada como reserva legal, independentemente da existência de um bem ambiental de especial interesse para ser protegido.
Os bens ambientais, aos quais estão associadas as áreas de preservação permanente, assim como as reservas legais, estão, em sua maioria, em áreas rurais produtivas. Ou seja, é o setor agropecuário que diretamente lida com essas obrigações legais.
Ter um percentual de imóvel rural legalmente destinado à proteção ambiental significa dizer que o agricultor brasileiro tem um patrimônio imobilizado em favor do meio ambiente. Em números, estudo da Embrapa de 2019 aponta que o valor da terra indisponível para cultivo e pecuária, destinada para proteção no Brasil é de R$ 2,38 trilhões.
Some-se a isso, o custo que o agricultor suporta para manter tais áreas protegidas, livres de distúrbios como incêndios e invasões – são investimentos em aceiros, cercamento, vigilância, monitoramento por satélite, etc.
Aqueles proprietários rurais que não cumprem bem os deveres de cuidado com as áreas protegidas podem estar sujeitos a penalizações pela lei, que vão desde multas administrativas, até penalidades criminais e obrigações civis de reparação de danos.
Os sistemas fiscalizatórios brasileiros, embora ainda bastante falhos, estão sendo aprimorados com uso de tecnologia. Até mesmo instituições financeiras estão se valendo de monitoramento remoto de queimadas para concessão de crédito rural. Em suma, o ônus ambiental para os produtores rurais não é desprezível.
Voltando à comparação com o resto do mundo, é evidente que o produtor brasileiro produz com conservação. Isso quer dizer que os produtos do agro brasileiro e, consequentemente, os produtos industrializados que os utilizam como matéria prima vêm com um benefício ambiental embarcado – e invisível.
Invisível porque o mercado consumidor não paga mais por esse benefício, embora aproveite todos os impactos positivos que as áreas rurais protegidas trazem: o controle do microclima, a disponibilidade hídrica, a manutenção do regime de chuvas, da biodiversidade, da perpetuidade das espécies e da própria produção de alimentos.
São serviços ecossistêmicos sendo produzidos e não remunerados. As áreas florestadas que os produzem devem ser valorizadas, como forma de compensar os ônus suportados pelos proprietários rurais que respeitam a legislação ambiental e de garantir a perenidade da conservação e das boas práticas agrícolas que contribuem para a conservação.
A lei política nacional de pagamento por serviços ambientais orienta para o reconhecimento das “iniciativas individuais ou coletivas que favoreçam a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços ecossistêmicos, por meio de retribuição monetária ou não monetária”.
Não bastasse isso, vemos iniciativas mundo a fora que buscam onerar os produtos do agro brasileiro com taxas e restrições comerciais similarmente aplicadas a produtos de outros países que não se comparam ao Brasil em termos de proteção da vegetação. Ou ainda quando linhas de corte temporais para o desmatamento são impostas sem considerar o esforço histórico do Brasil na preservação de suas florestas.
O governo vem buscando entendimentos, em nível internacional, para que tais políticas se mostrem mais equânimes e não afetem a competitividade dos produtos brasileiros. Mas o reconhecimento do valor dos serviços ecossistêmicos é uma pauta que precisa ser consolidada inclusive internamente para além dos cálculos de carbono estocado nas florestas.
Embora o volume de carbono florestal seja um indicativo importante de cobertura do solo, são os serviços de todo o ecossistema circundante (das águas, do solo, do ar, da fauna) que vão sustentar a vida da floresta (e do carbono nela estocado) no longo prazo, funcionando como verdadeiro escudo contra a degradação de ecossistemas em razão das mudanças climáticas, processo já atualmente sentido e que tende a se agravar.
Marina Monné é advogada ambiental, sócia e coordenadora de Carbono da Eccon Soluções Ambientais.